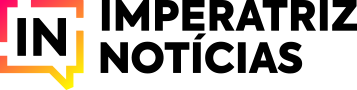Repórter: Carolina Nascimento e Lucas Medeiros
Fotos: Acervo da fonte
Aos 43 anos, Emilene Leite de Sousa, professora, pesquisadora, mãe e encantada pelo mundo das crianças, é doutora em Antropologia Social e mestre em Sociologia com área de atuação focada na pesquisa sobre trabalho e ludicidade na infância há pelo menos 19 anos. Tendo um grande número de publicações de artigos e livros a respeito, é uma desbravadora do assunto na pesquisa nacional. Atuando na área da antropologia da infância, desenvolveu estudos pioneiros sobre uma temática ainda marginalizada e que antes não tinha nenhuma fundamentação teórica, passando a contribuir também com a consolidação dessa área por ter sido uma das primeiras pesquisadoras a olhar para o estudo da infância indígena no Brasil.
A professora percebeu durante a sua graduação quando era bolsista do projeto juventude rural, que nas pesquisas em que tinham conversas com os jovens no roçado, em todo lugar havia crianças brincando, trabalhando e por vezes “atrapalhando” as suas tentativas de entrevista. A partir daí, a pesquisadora começou a analisar o quanto a infância era permeada por questões como trabalho e ludicidade. Já no mestrado, Emilene decidiu desenvolver estudos sobre crianças camponesas, passando a dedicar-se a examinar a infância Capuxu do sertão da Paraíba, que conscientemente se assemelha muito à infância indígena.
Os estudos sobre os indígenas não dependem apenas da necessidade de estudá-los, é necessária uma aprovação pelos órgãos competentes como Fundação Nacional do Índio (Funai) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), mas principalmente do interesse do povo indígena em receber os pesquisadores em suas aldeias. O projeto passa por aprovação dos órgãos regionais e nacionais responsáveis pela proteção, acolhimento e cooperação com os indígenas. “Então a gente já entra com esse formalismo, dizendo, olha, eu sou a pesquisadora, sou a professora, aquele projeto que vocês aprovaram, eu vim desenvolver na aldeia”, explica a professora.
A cultura indígena é consolidada em muita fé no sobrenatural, na natureza e na sabedoria dos mais velhos. Os tratamentos de cura, os rituais de passagem, a autonomia que é dada às crianças pelo respeito que estes têm pelos mais velhos, são características de um povo repleto de tradições, ensinamentos, valores e costumes que representam as civilizações nativas do país. Características essas que encantaram a pesquisadora Emilene, e continuam encantando a cada nova descoberta e experiência que vivencia sobre essa cultura tão vasta. “Para mim é tudo muito mágico. Eu acho, além dessa relação com a natureza, que eu pontuei com vocês, eu acho a relação com o sobrenatural incrível”, afirma a pesquisadora.
A ancestralidade por trás da vida indígena é algo destacado como fascinante pela pesquisadora, desde o costume de as mães manterem seus filhos bebês o tempo todo preso sobre seu corpo com uma tipoia, até os rituais de passagens, em que neles se manifestam todas essas marcas da cultura indígena. “Então geralmente as experiências, e quando eu falo de rituais, eu digo porque o ritual envolve o corpo, envolve a língua, através do canto, envolve as pinturas corporais, os ornamentos, a gastronomia, porque se tem pratos específicos, como a carne de macaco moqueada, uma substância alucinógena, um chá, uma coisa do tipo”, explica a pesquisadora.
Na entrevista que segue, Emilene fala da importância de seu estudo na área da antropologia infantil, sobre responsabilidade de cientista social que não se limita a formação acadêmica, mas é um exercício presente para toda a vida que deve ser praticado e reformulado para transformar a característica humana do etnocentrismo e intolerância. Uma abordagem sobre suas inspirações, motivações sobre a sua grande área de estudo, suas vivências e sobre a principal informação da entrevista, a afirmação de que as crianças são o centro de tudo, e não um organismo a parte.
Imperatriz Notícias: O que lhe motivou a estudar essa área da infância indígena?
Emilene Leite de Sousa: Eu comecei os meus estudos com crianças camponesas, que era o povo Capuxu no sertão da Paraíba. Só que a infância camponesa, especialmente a Capuxu, tem muita aproximação com a infância indígena. Quando eu comecei a estudar essas áreas, o ramo da antropologia da criança era muito recente no Brasil, então eu sou uma das fundadoras dessa área aqui no país, porque estive entre as primeiras pesquisadoras a publicar sobre antropologia da criança aqui. Mas quando eu comecei, não tinha referências para respaldar meus estudos e eu terminava utilizando referências generalizadas e bibliografias que não eram apropriadas para pensar a criança do campo e indígena no país. Os estudos sobre a infância indígena eram um pouco mais desenvolvidos, porque os estudos da antropologia da criança no Brasil começam fortemente com a infância indígena. Então a gente podia se utilizar das etnografias dos antropólogos clássicos que estudaram indígenas no Brasil. A gente buscava nas notinhas de rodapé, em uma passagem muito rápida, em todas as fotografias de velórios, ou em qualquer lugar que elas apareciam, para mostrar que elas eram protagonistas, que elas apareciam em toda parte e que elas estavam no centro de tudo, e que na verdade eram os pesquisadores que não davam atenção para isso. Era preciso um ramo da antropologia que parasse para ouvir as crianças, e foi a partir desse movimento que nós começamos a ter pesquisadoras em várias etnias indígenas do país pesquisando infância. E então rapidamente, em torno de uma década, a gente conseguiu construir uma antropologia da infância bem articulada e com uma boa referência bibliográfica para essa área que toma a criança como protagonista.
IN: E como ser uma das primeiras pesquisadoras do país a olhar para essa área?
ELS: Pra mim é super gratificante, porque tem todo um reconhecimento. Os meus escritos circulam pelas primeiras obras organizadas, junto às primeiras pesquisadoras que pensaram isso no país. Eu participava quase sempre de grupos de trabalhos nos eventos, mesas redondas, porque éramos poucas pesquisadoras nessa área, então sempre tinha vários convites. Depois essa área foi crescendo bastante, se desenvolvendo muito no país, e hoje já temos um campo bem consolidado. Continua sendo uma área um pouco marginalizada, infelizmente, mas que mesmo assim tem crescido muito, e eu me sinto muito orgulhosa de ter feito parte desse movimento que meio que alavancou as pesquisas sobre crianças na antropologia no país.
IN: Por que essa é uma área marginalizada?
ELS: Porque as pessoas não entendem muito que as crianças são o centro de tudo. Não só no centro de suas culturas quando a gente fala das culturas indígenas e camponesas, mas que elas estão no centro de tudo. As crianças, são elas que herdam, elas são o futuro, elas participam, elas protagonizam, elas têm ardência, elas tomam decisões também. Tudo que a gente faz afeta diretamente essas crianças, é tudo uma questão de tempo para isso. Então, infelizmente essa ainda é uma área um pouco marginalizada.
IN: A senhora diria que as práticas e vivências indígenas agregaram na sua experiência como mãe?
ELS: Ah, completamente! Muito, muito mesmo. Mas assim, uma coisa bem importante, é que a gente aprende na antropologia a relativizar e a contextualizar. Esse é um exercício constante de vigilância epistêmica sobre nós mesmos, porque nascemos e somos socializados etnocêntricos, intolerantes e com preconceitos na nossa cultura. Então, a gente se torna cientista social, mas a gente tem uma luta que é para sempre, que começa na nossa formação e que dura o resto da vida. Porque a gente adquire consciência dessa intolerância, desse etnocentrismo, desse preconceito, o que faz com que a gente fique para sempre nesse exercício de transformar isso. Então, como eu já tinha anos estudando a criança indígena, eu terminava trazendo uma coisa da criação deles, porque eu achava que era certo, só que eu tinha que ter cuidado de lembrar que meu filho não vive na aldeia, eu não sou indígena, ele não é indígena. Várias vezes eu me indispunha com pediatras, terapeutas, psicólogos, pessoas que me atendiam em geral, por causa desse impasse. Então, por exemplo, eu dizia que não há problema nenhum eu ficar com meu filho no colo o tempo inteiro, aí o exemplo que eu trazia era indígena. Eu dizia, olha, as crianças estão sempre presas aos corpos das mães nas tipoias, e elas são autônomas, então quando crescem, elas são independentes, têm agência e são protagonistas da sua cultura. Então eu ficar levando meu filho pra UFMA para dar aula, levar meu filho para o trabalho, ficar com ele no colo preso a uma tipoia não vai torná-lo uma criança completamente dependente como vocês acreditam. Só que às vezes eu precisava relativizar, porque uma criança indígena que está presa na tipoia ao corpo da mãe, ela tem uma autonomia para na aldeia, e de repente isso pode não funcionar na cidade.
IN: E quais eram úteis?
ELS: Quase tudo em torno de agência e autonomia. A relação das crianças com os animais, que eu acho sensacional, foi uma grande aprendizagem que eu tenho passado para o meu filho. A relação com as plantas, com o meu ambiente em geral. A aceitação em relação a diversidade, porque por exemplo, eu poderia chegar com meu filho a qualquer aldeia, todas as crianças de todas as etnias o recebiam bem. Eu o criava para que ele conseguisse dialogar e interagir com crianças de todas as raças, cores, credos, formas, sem preconceito. A autonomia para pequenas atividades que os indígenas e camponeses determinam que eles façam. O ouvir as crianças eu acho que foi umas das maiores aprendizagens, porque como eu sou defensora de que nós precisamos ouvir as crianças, que elas têm uma opinião formada sobre tudo, que são sensíveis e atentas aquilo que acontece à sua volta, eu sempre me dispus a dialogar e ouvir a opinião, os sentimentos, as expressões e frustrações do meu filho. Foram tantas aprendizagens que foram úteis para mim na maternidade que eu não conseguiria contabilizar, embora nem todas sejam aprovadas por pediatras e cientistas da nossa cultura. Eu meio que tento equilibrar e sigo a minha intuição em relação a isso. Então se eu sinto que vai ser uma coisa bacana para ele, eu faço.

IN: Os indígenas são receptivos com quem visita as aldeias?
ELS: Sim. Eles são um pouco desconfiados por causa da história, por todo esse histórico de intolerância, preconceito, de genocídio mesmo. Então depende também de como você acessa. Se você vai passando pela BR em um carro e entra lá, você não vai ser bem recebido, o que é absolutamente compreensível. Então depende muito de como você acessa. No caso o correto para os pesquisadores, é acessar pela Funai. Então eu elaboro um projeto, ele vai para a Funai de Imperatriz, a Funai apresenta o projeto para a aldeia e consulta os indígenas para que eles possam autorizar. Eles autorizam se o pesquisador pode ou não ir. Depois o projeto vai para a Funai de Brasília, é arquivado, registrado, e aí a Funai de Brasília diz que essa pesquisadora de instituição tal pode desenvolver uma pesquisa lá. A gente já entra com esse formalismo, se identificando. Ou seja, tem uma maneira como você entra através dos órgãos de apoio, das cooperativas indígenas, da Funai, que são os responsáveis por proteger, acolher e cooperar com indígenas, isso facilita um pouco sua entrada.
IN: Qual a experiência mais marcante que a senhora já vivenciou em uma aldeia?
ELS: Eu acho tudo mágico. Pra mim tudo é muito mágico. Além dessa relação com a natureza que eu pontuei com vocês, acho a relação com o sobrenatural incrível. Mas geralmente, quando me pergunta sobre a aldeia, eu me lembro muito dos rituais e dos encerramentos dos rituais, que geralmente são festas. Lembro da madrugada, das mulheres dançando com os seios de fora, levantando poeira, e nós, pesquisadores, morrendo de frio. Das noites estreladas, de como eles compartilham a comida, inclusive com uma honraria aos convidados. Das canções, de como eles traduziam para mim as canções, contando o significado de cada uma. Então assim, tudo que estava em torno dos rituais me interessava muito, eu acho fascinante. Geralmente as experiências, e quando eu falo de rituais, eu digo porque o ritual envolve o corpo, a língua através do canto, pinturas corporais, ornamentos, gastronomia, porque se tem pratos específicos, como a carne de macaco moqueado, uma substância alucinógena. É até difícil de responder, porque eu acho tudo que eles fazem incrível. Mas os sentidos atribuídos, o modo de vida, o modo de se relacionar com a natureza, com o sobrenatural. Essa perspectiva de que a natureza tem uma alma, de que é possível dialogar com animais e plantas, de que eles olham para a gente, que eles têm percepções sobre a gente, é fascinante isso. Isso é o que a gente chama de perspectivismo, que é o pensar que até os objetos, como um cesto que eles fazem, têm uma alma, uma essência. A sabedoria, a relação que eles têm com os sonhos, o que a gente chama de experiências oníricas. É tudo genial, acho tudo marcante.
IN: A senhora já participou de algum desses rituais?
ELS: Eles são rituais de passagem, geralmente não tem como você participar ativamente. Como eu estudo infância, eu verifiquei muitos rituais de passagem de criança para mulher, já que lá não tem adolescência, é uma coisa que eles chamam de menina-moça, ou do menino para o guerreiro, que eles chamam de rapaz. Eu acompanhava esses rituais, mas não como a gente chama de observação participante, como eu consigo praticar com as crianças quando elas vão nadar no rio e eu vou junto. No ritual é diferente, você pode acompanhar juntos com os demais, dançar com eles, cantar, mas você não é transformado junto com aquele sujeito que está submetido ao ritual de passagem. Mas eu já fui batizada entre os Tenetehara, que é os Guajajara. Tenho um nome Guajajara, tenho um nome Canela, que é do povo Timbira.

IN: Já aconteceu algo inusitado?
ELS: Acho que a comida é uma coisa muito inusitada. Você está habituado a comer determinado tipo de comida, então quando você tem acesso a um prato pela primeira vez, que eles te disponibilizam e você não vai fazer a desfeita de não comer. Então isso é marcante. Outra coisa é a falta de privacidade. Você vai para o rio com as mulheres, todas as mulheres ficam nuas tomando banho, aí de repente vem os homens, porque não sabiam que as mulheres estavam no rio, e vê rapidamente e voltam. Tentar ir no banheiro, tentar fazer as necessidades e as pessoas ficarem perto, as crianças, irem juntos. Essa falta de privacidade, para quem cresce em uma sociedade, com portas do banheiro fechadas, que ninguém faz nada na frente de ninguém, ninguém fica nu na frente de ninguém, é uma coisa bem diferente mesmo pra mim, que já frequentei praias de nudismo. É uma coisa bem delicada, digamos assim, para quem não está habituado. Então eu destacaria isso, a falta de privacidade, nossa noção de privacidade e de intimidade, que pra nós é diferente, em relação ao corpo, a nudez.
Bate-volta
IN: Livro que mudou sua vida?
ELS: Miguilim, de Guimarães Rosa, que tem uma criança como protagonista.
IN: Livro que gostaria de ter escrito?
ELS: Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa.
IN: Uma música para tocar na sua playlist?
ELS: Eu sou muito musical, mas acho que Flor de Ir Embora, da cantora Fátima Guedes e Mochileira, do cantor Almir Sater.
IN: Uma série que indicaria?
ELS: Nada Ortodoxa.
IN: Uma dica para quem quer ser jornalista/ou outra profissão, se for o caso?
ELS: Fiquem importantes aos ensinamentos da antropologia. Convencer o etnocentrismo, a intolerância, ser sensível ao outro. Eu acho que a sensibilidade é uma coisa fundamental para o jornalista. Ser sensível ao outro e entender que toda verdade é uma verdade construída, editada e selecionada em particular. Ela não é universal e não precisa ser universal. Então, lutar contra todas as formas de etnocentrismo, de intolerância e de preconceito. Ter muito cuidado com as palavras, todo cuidado com a palavra, já que vocês lidam com ela e com o discurso o tempo inteiro. Estar atento aos ensinamentos da antropologia e ter a sensibilidade aflorada, essa é minha dica.