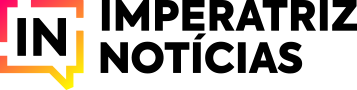Por: Stephany Apolinario Sousa

Quando se fala em cemitério, uma nuvem de preconceitos tende a pairar. Para muitos, a palavra traz imagens de falecidos, histórias de fantasmas e lendas antigas que permeiam o imaginário coletivo. É comum pensar em figuras sombrias e em um ambiente carregado de mistério e medo. No entanto, o que frequentemente escapa à percepção é o trabalho cotidiano e meticuloso que mantém o cemitério em ordem.
As pessoas que cuidam dos túmulos, que limpam e preservam o local, muitas vezes permanecem invisíveis para a maioria. Eles são os responsáveis por garantir que o espaço respeite a memória dos que ali descansam, mas raramente recebem a atenção ou o reconhecimento que merecem. Essa dimensão do cemitério, a do trabalho árduo e essencial, é muitas vezes ignorada, obscurecida pelas superstições que envolvem o lugar.
Eu era uma dessas pessoas que nunca parou para pensar no outro lado desse lugar, até que precisei fazer uma reportagem para uma disciplina do curso de jornalismo. Lembro que, quando a professora avisou que queria algo diferente, pensamos em escrever sobre as pessoas que trabalham no IML. Porém, alguns ficaram com medo, e essa ideia foi descartada. Escolhemos então outro tema, mas não deu certo em cima da hora. Foi então que alguém sugeriu irmos ao cemitério e fazer a matéria sobre as pessoas que trabalham lá.
Como todo bom brasileiro que não desiste, essa foi a decisão tomada um dia antes da entrega. Na manhã do dia da entrega, fomos ao local, sem saber exatamente o que fazer. Não posso falar pelos outros, mas eu não estava preparada para o que iria escutar dos trabalhadores ou para o que ia encontrar. Fui surpreendida ao chegar e observar alguns trabalhadores sentados e conversando. A atmosfera, que eu esperava ser pesada e carregada de tensão, estava longe disso.
Os preconceitos estavam presentes, mesmo que eu não quisesse. Afinal, quando se cresce escutando histórias sobre esses lugares, essas ideias acabam ficando impregnadas na mente. Chegamos ao cemitério e decidimos que faríamos um trabalho para mostrar esse pessoal sob outro olhar, na tentativa de ajudar a construir uma sociedade melhor.
Procurei alguém para conversar e encontrei um senhor, magrinho e baixinho, chamado Assis, zelador, mas que me surpreenderia com sua história. Ele começou a me contar sua vida enquanto limpava um túmulo. Eu brinquei que ia segui-lo o tempo todo, e ele respondeu dizendo que eu cansaria, porque andava muito. E ele não estava mentindo: no tempo que fiquei ali, nós íamos de um túmulo para outro, e a parte mais complicada era ter que buscar água em um poço que ficava longe das sepulturas que ele estava limpando.
Enquanto conversávamos, me contou sua história. Assis começou a trabalhar naquele lugar ajudando sua esposa. Com o tempo, sua esposa faleceu, então ele parou, mas as pessoas continuavam a procurá-lo. Foi então que resolveu voltar. Era como se a presença da esposa ainda estivesse ali, nas pequenas rotinas e nos cuidados diários. Durante a conversa, perguntei se ele era quem cuidava do túmulo da esposa. Assis respondeu que sim, e que também cuidava do túmulo de mais duas pessoas de sua família: seu filho e sua sogra. Falou que era mais triste, e que toda vez que ia limpar, ficava emocionado até terminar. Logo após, encontrei uma senhora, e enquanto conversávamos, perguntei a ela sobre o assunto. Ela me disse que sua mãe estava enterrada justamente onde estávamos conversando.
Curioso sobre o que ele sentia ao trabalhar ali, perguntei se tinha medo. Assis sorriu e, em tom de brincadeira, disse que não, porque “é à noite que as almas aparecem e só trabalha de dia.” Para ele, o medo não estava relacionado ao cemitério em si, mas à vida real e às situações do dia a dia. Mais tarde, conversei com Maria, outra trabalhadora do cemitério, que também afirmou não ter medo dos mortos, mas sim das pessoas vivas. Ela falou que seu medo maior era a criminalidade.
No período em que fomos ao cemitério, a criminalidade dentro do local estava alta e as pessoas que usavam drogas e se escondiam ali representavam um risco real para quem trabalhava naquele ambiente. Para Maria, essas pessoas eram a verdadeira ameaça, não as histórias de fantasmas ou lendas. Conversando com ela, percebi que, para muitos, o medo real é o cotidiano, as ameaças que surgem no dia a dia, e não os mitos que costumamos atribuir aos lugares como este.
Esses trabalhadores, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade. Estão ali, dia após dia, desempenhando um trabalho fundamental, mas raramente são notados. Nós os colocamos em lugares escondidos, como se nunca os percebêssemos. Quando finalmente me dei conta disso, senti como se tivesse levado um tapa na cara. As histórias de vida dessas pessoas, como são fortes em limpar cada túmulo, sabendo que por trás de cada um deles existiu ou ainda existe uma história, me impressionaram profundamente. Isso depende do que você acredita.
As pessoas com quem conversamos, com idades variando entre 50 e 70 anos, inicialmente começaram a trabalhar no cemitério por necessidade, mas com o tempo se tornaram especialistas em sua área. Seus anos de experiência transformaram o trabalho em uma verdadeira vocação, permitindo que desenvolvessem um conhecimento profundo sobre o ambiente e as práticas relacionadas ao sepultamento. Esse conhecimento não se limita apenas às tarefas físicas, mas também inclui uma compreensão das tradições e culturas associadas aos rituais de sepultamento.
Cada pessoa enterrada no cemitério carrega consigo um conjunto único de crenças e práticas, refletido em seus túmulos. Alguns têm velas ou outros objetos colocados pelos entes queridos, enquanto outros não seguem tais tradições. Assim, torna-se uma representação da diversidade cultural, onde as diferentes tradições e rituais convivem lado a lado. Essa variedade enriquece o ambiente e revela a complexidade das culturas representadas, tornando o trabalho dos funcionários ainda mais significativo à medida que eles respeitam e mantêm a integridade dessas diversas práticas.
Apenas nesta manhã, encontrei pessoas com grandes histórias. Imagine se eu passasse mais tempo ali. Também conheci o Baiano, este foi o nome que ele nos deu. Ele é coveiro, o profissional responsável por preparar as covas nos cemitérios. Conversamos sobre como lidar com todos os sentimentos que surgem, afinal, ele está enterrando uma pessoa e acompanha de perto a família dando um último adeus, ou não, isso depende do que a pessoa acredita. Ele respondeu: “A pessoa se emociona, a gente é ser humano.” Aqui entra o ponto de que, sim, eles são pessoas como todos nós.
Esses trabalhadores, em meio ao silêncio e à solidão dos cemitérios, desenvolvem uma relação íntima com a mortalidade e a memória. Eles não apenas limpam túmulos e cavam sepulturas; eles preservam o respeito e a dignidade das histórias que ali descansam. O que mais me impressionou foi perceber que, para eles, esse trabalho não é apenas uma tarefa mecânica, mas uma missão carregada de empatia e humanidade.
A manhã no cemitério passou voando, e quase perdemos a noção do tempo. De início, éramos um grupo acanhado e deslocado, enfrentando um ambiente que nos parecia estranho e intimidante. No entanto, à medida que nos envolvemos nas histórias e no cotidiano dos trabalhadores, nossa apreensão deu lugar a uma empolgação crescente. Saímos do cemitério com uma nova perspectiva e uma energia renovada, ansiosos para compartilhar com o mundo a experiência transformadora que vivenciamos.
Quando deixei o cemitério naquele dia, não levei comigo o peso das lendas ou dos fantasmas. Ao contrário, saí com um novo olhar, uma nova compreensão. Prometi a mim mesma que jamais voltaria a ver aqueles que cuidam dos mortos como invisíveis. Afinal, são eles que, em meio ao silêncio das lápides, garantem que as histórias de vida continuem sendo contadas, mesmo que em silêncio. A visita ao cemitério, que inicialmente encarava com receio, transformou-se em uma lição sobre a dignidade do trabalho e a beleza das histórias humanas por trás de cada túmulo limpo.