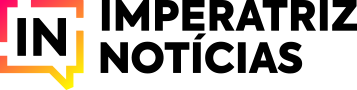Repórter: Laura Paulino e Vivia Maria
Fotos: Acervo pessoal de Camilla Tavares
Camilla Tavares é doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e atua como professora de graduação da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em Imperatriz, onde também coordena o programa de pós-graduação em comunicação da instituição de ensino desde março de 2021.
Engajada em pesquisas acadêmicas, a docente estuda questões voltadas à mídia, campanhas eleitorais, gênero e rotinas jornalísticas. Seus artigos buscam analisar vários pontos, entre eles o lugar da mulher na política e também a desigualdade de gênero sofrida por profissionais da comunicação em geral.
Segundo ela, estudar sobre gênero é essencial, especialmente para os futuros jornalistas porque amplia a visão sobre assuntos relacionados à mulher e auxilia na construção de matérias que ajudem o público a entender o contexto desigual em que a população feminina está inserida, nos mais variados aspectos.
Em um de seus trabalhos mais recentes, do ano de 2019, a pesquisadora busca investigar o cotidiano das profissionais locais, quais espaços elas ocupam dentro das organizações jornalísticas e problemas internos que precisam ser combatidos com urgência, como o assédio e a pressão estética.
Nesta entrevista, Camilla relata as dificuldades das mulheres dentro das instituições jornalísticas e políticas e suas próprias experiências enquanto jornalista. Além disso, ela conta um pouco sobre o conteúdo de suas pesquisas e narra sua perspectiva sobre diversos assuntos ligados às disparidades de gênero presentes na sociedade contemporânea.
Imperatriz Notícias: Como os estereótipos de gênero dificultam o trabalho jornalístico como um todo?
Camilla Tavares: O jornalismo acaba, em certa medida, transpondo os problemas que a gente vê na sociedade de modo geral. Então nós temos uma sociedade que é muito machista, patriarcal e marcada por estereótipos de gênero. Isso acaba interferindo também no modo como o discurso jornalístico é construído e tem muito a ver com a nossa formação enquanto jornalistas, porque os estudos de gênero no jornalismo são relativamente recentes. Muitos cursos da graduação não têm espaços próprios para se fazer discussões a respeito desses estereótipos e desses problemas da desigualdade de gênero que a gente encontra. Então, no discurso jornalístico, a gente tem uma cobertura muito marcada por estereótipos, muito me parece pela falta de uma formação mais voltada para identificar esses problemas e para tratar desses problemas a partir do jornalismo.
IN: Como seu trabalho foi afetado por essa problemática, tanto como editora quanto como pesquisadora?
CT: Eu acho que toda mulher, em alguma medida, no seu trabalho, vai se deparar com problemas relacionados às desigualdades de gênero, mas às vezes a gente acaba não tendo consciência de que aquilo é uma situação que a gente pode considerar como sendo marcada por essas desigualdades. Eu nunca sofri abertamente nenhum tipo de problema relacionado à desigualdade de gênero, se a gente pensar assim em algo mais aberto. Essa diferença no tratamento se dá de maneira muito sutil. É, às vezes a mulher sendo vista como a brava, quando ela tem um posicionamento mais definido e mais sério, ela é vista como uma pessoa irritada, se ela apresenta algum tipo de emoção em relação à alguma situação, ela pode ser taxada como desequilibrada. Eu, particularmente, nunca passei por situações dessa natureza, mas eu já passei por situações em que eu tinha colegas homens que achavam que mandavam e que a voz deles valia mais e pesava mais do que a minha por eu ser mulher, por eu ser jovem comparado a eles na época.
IN: Algo em sua rotina de trabalho mudou a partir dessas experiências?
CT: A mulher tem que tomar muito mais cuidado no modo como ela se porta e como ela se apresenta do que os homens, me parece. Eu comecei a dar aula na universidade com 22 anos, então eu era muito nova para a carreira universitária e, além disso, eu era mulher. Então eu sempre tive um posicionamento meio combativo, eu sempre fui muito séria, muito incisiva e isso era taxado como “a mulher brava”. Todo mundo sempre falou “a Camilla tem cara de brava”, mas não é que eu tenha cara de brava, é que em algumas situações parece que, se você baixa um pouco da guarda, as pessoas vão te interpretar da maneira errada. Então eu sempre preferi ser interpretada como a brava do que como sendo “a Camilla, aquela bobinha”, sabe?
IN: Essas vivências colaboraram de alguma maneira para que você começasse a estudar a questão do gênero na comunicação em geral?
CT: Eu acho que foi o contrário, por eu ter começado a estudar as relações de desigualdade de gênero eu comecei a perceber situações que eu e outras mulheres passamos no dia-a-dia, que são micro desigualdades. E micro ações são carregadas com esses estereótipos e com esses posicionamentos. Na universidade que eu trabalhava antes de chegar na UFMA, tinha um grupo de pesquisa sobre jornalismo e gênero e eu me considero uma pessoa feminista, embora eu não seja exatamente uma militante da causa. Isso era um tema que particularmente me interessava, então quando eu entrei no grupo de pesquisa dedicado aos estudos de gênero, a partir dessas leituras e do compartilhamento das experiências de outras mulheres, comecei a perceber algumas situações que eu passava que não eram só comigo, aconteciam também com outras mulheres.
IN: E existe alguma perspectiva de melhora quanto a isso? Por quê?
CT: Eu acho que sim. Quando nós fazemos pesquisa, a gente tem, implicitamente, essa motivação para se mudar aquela realidade e a pesquisa para mim tem que ter uma certa utilidade nesse sentido. A gente não quer identificar os problemas e simplesmente dizer “aqui tem um problema”, queremos propor soluções e apontar esses problemas como uma forma de tentar superá-los, porque a gente só consegue superar alguma questão problemática a partir do momento que se tem o reconhecimento dela. A gente já avançou muito nesse sentido comparado a 20 anos atrás. Hoje se discute muito mais os direitos da mulher, os direitos da população LGBTQIA+, falamos mais abertamente sobre isso, apesar de o jornalismo ainda me parecer com um discurso muito conservador. Enquanto sociedade, nós já avançamos em relação a isso, a própria lei do feminicídio é uma conquista e um marco nessa luta. Eu sou otimista nesse ponto, acho que a pesquisa serve justamente para isso, para avançar e eu vejo que temos avançado.
IN: Você também faz pesquisas sobre as mulheres na mídia e na política. Seus artigos partiram de algum acontecimento que te inquietou, enquanto mulher?
CT: Enquanto mulher, não. A política é um espaço muito masculino. Hoje a gente tem um eleitorado feminino maior do que o masculino, mas ao mesmo tempo, nos espaços de representação de poder quem ainda permanece são os homens. As minhas pesquisas nesse sentido queriam entender qual que é o espaço da mulher, quais são os entraves que dificultam a entrada da mulher no cenário de representação política, como que a mídia trata as mulheres que decidem se candidatar…Nossa, até uma mulher conseguir chegar, ser eleita e ocupar um cargo público é um processo cheio de percalços pelo caminho. Começa pelos partidos, que normalmente não tem muito interesse em colocar mulheres, aí a gente tem a lei de cotas, hoje se coloca muito mulher apenas para cumprir a lei, então a maioria das candidaturas não são pensadas de fato para a mulher chegar lá.

IN: Existe diferença entre o machismo estrutural presente em alguns lugares, como entre o Paraná e o Maranhão, ou é igual em todo o Brasil?
CT: Os dois estados são machistas, talvez o que mude seja a intensidade ou até o nível de reconhecimento que cada mulher tem em cada estado. Se aqui (Paraná) eu tenho mais mulheres com maiores conhecimentos em relação ao micro machismo que se estabelece no dia-a-dia, talvez aqui possa parecer que se tem mais machismo do que no Maranhão porque talvez no Maranhão, as mulheres não reconheçam as ações machistas pelas quais elas passam. É claro que a gente tem alguns indicativos que podem mostrar essas divergências, por exemplo denúncias de agressão, alguns estados do Nordeste e do Norte têm números de boletins de ocorrência maiores do que outros estados, mas isso perpassa por outras questões. Será que todo mundo denuncia? Não. Casos de feminicídio são outros indicadores que podem nos dar pistas de estados que são mais violentos em relação à mulher, mas se tem mais machismo em um lugar do que outro, eu acho que é um pouco difícil de avaliar.
IN: O assédio dentro das instituições jornalísticas depende do nível de instrução da profissional? Mulheres em começo de carreira sofrem mais?
CT: A gente tem poucas evidências ainda sobre o assédio na redação, de modo geral. Quem está em início de carreira sempre tende a sofrer mais porque a pessoa ainda é nova, normalmente tem pouca experiência, então ela é um elo fraco. Talvez ela tenha a possibilidade se sofrer mais assédio do que uma pessoa que já está lá a muito mais tempo, que já conhece como funciona o negócio. Primeiro, nem todo mundo reconhece as situações de assédio pelas quais passa, inclusive nas redações e segundo, muita gente tem medo de perder o emprego que acabou de conseguir, então releva. Muitas jornalistas precisam simplesmente ignorar algumas coisas.
IN: A questão do gênero é algo bem atual, as pautas feministas estão bastante em alta nos dias de hoje. Estudar esse assunto virou modismo?
CT: Eu acho que as pessoas começaram a perceber que nós temos muitos problemas que precisam ser investigados e isso está um pouco relacionado ao desenvolvimento das linhas de pesquisa em comunicação e gênero, que eram poucos no Brasil. Hoje a gente ainda tem pouco, mas tem mais pesquisas sendo feitas nesse sentido, então de alguns anos para cá, começou-se a desenvolver mais e a olhar para esses fenômenos das desigualdades de gênero. Eu não vejo como modinha, eu vejo como evolução mesmo dessa subárea de pesquisa dentro da academia. Quanto mais estudos a gente tiver nessa linha, melhor.
IN: Como coordenadora de pós-graduação da UFMA, já sofreu algum tipo de preconceito ocupando essa posição dentro da universidade?
CT: Eu assumi a coordenação no começo desse ano e nunca passei por nenhuma situação que me colocasse em uma posição inferior por eu ser mulher. Hoje em dia, eu vejo que isso é mais difícil de acontecer comigo porque eu já tenho uma trajetória e quase 10 anos de carreira.
Bate-bola:
IN: Livro que mudou sua vida.
CT: O Sol é para todos, de Harper Lee.
IN: Livro que gostaria de ter escrito.
CT: A coleção do Harry Potter.
IN: Uma música para tocar na sua playlist.
CT: Construção, do Chico Buarque.
IN: Uma série que indicaria.
CT: Friends.
IN: Uma dica para quem quer ser jornalista.
CT: Estude muito, leia bastante coisa, procure se informar sobre aqueles temas que você queira trabalhar, não tenha preguiça de pesquisar porque existem muitas coisas escritas sobretudo no mundo. Então quanto mais pesquisa a gente fizer sobre o tema que a gente quer trabalhar, melhor vai sair a nossa ideia de pauta e a nossa matéria. E não acredite 100% no que uma fonte te diz, procure outras fontes para você conseguir fazer essa triangulação e conseguir confirmar aquilo que uma fonte está te dizendo.